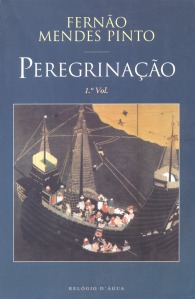1- INTRODUÇÃO
Quando Karl Popper concluiu os manuscritos dos dois volumes da obra em título, o primeiro em outubro de 1942 e o segundo em fevereiro de 1943, certamente estaria longe de supor que a mesma teria uma repercussão tão ampla como a que alcançou junto de cientistas sociais, filósofos e população em geral. Muito menos seria de esperar essa repercussão, se atentarmos ao facto de que o objetivo de Popper não era, inicialmente, o de escrever um livro, mas apenas recolher algumas notas ilustrativas das filosofias historicistas. Essas notas atingiram tal volume que acabaram por dar origem às mais de setecentas páginas de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos1.
É por isso que esta obra é um trabalho de permanente consulta; cada um dos seus vinte e cinco capítulos pode ser estudado separadamente. Popper, aliás, hesitou sobre a estrutura da obra, sobre qual o capítulo que deveria abrir o livro e sobre a sequência dos restantes. Independentemente das vicissitudes que estiveram na origem da construção do livro, Popper legou-nos uma das obras mais importantes do século XX e uma das mais importantes de todos os tempos na área da Filosofia Social. Para nós (mas nós somos suspeitos) a obra maior de Sociologia alguma vez publicada.
De que trata o livro, afinal? Como o título indica, da sociedade aberta2. E dos seus inimigos, ou seja, dos defensores da sociedade fechada. Três destes, com enorme influência sobre intelectuais do mundo inteiro, são particularmente visados por Popper: Platão, Hegel e Marx. E por que trata Popper das doutrinas destes autores e não de outros? Por um lado porque os três são historicistas3; por outro lado, porque estes três sociólogos são os mais conhecidos, os mais estudados, os mais influentes e os mais venerados em todo o mundo. Popper, aliás, adverte o leitor para este facto, logo no Prefácio da primeira edição de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em 1943.
Se, neste livro, são proferidas críticas desabridas a alguns dos maiores expoentes intelectuais da humanidade, a minha intenção não foi, espero, diminuir essas figuras. Antes foram elas motivadas pela convicção de que para garantir a sobrevivência da nossa civilização devemos abandonar esta deferência arraigada face às grandes sumidades. Na verdade, grandes homens podem cometer grandes erros; e, como se procura mostrar neste livro, alguns dos mais eminentes líderes do passado apoiaram o perene ataque contra a liberdade e a razão. De resto, na medida em que raramente é posta em causa, a sua influência continua a transviar e a dividir aqueles de quem depende a defesa da civilização.
O mais dissecado dos três filósofos referidos é Platão, talvez porque – pela sua incrível capacidade de comunicação e pelo seu indiscutível talento – é também o mais respeitado entre a comunidade intelectual. O mais detestado por Popper é Hegel, considerado um charlatão4, e o que lhe merece maior respeito é Marx, que, embora tenha preconizado uma solução errada, procurou, segundo Popper, libertar a humanidade da escravidão5. Tendo em conta que estes três grandes filósofos (além de muitos outros) foram, em diferentes épocas e por diferentes formas, inimigos da sociedade aberta, é óbvio que (os seus pensamentos) deverão ter algo em comum. Para além do historicismo, já referido, as suas filosofias enquadram-se em contextos históricos similares. Popper constata que todas as filosofias radicais, como as de Platão, Hegel e Marx, surgem em tempos de convulsão social; são uma resposta às disputas e atribulações dentro da sociedade, numa determinada época histórica.
Por isso mesmo, essas filosofias são datadas, marcadas no tempo, e não podem ser transportadas para o futuro – porque o futuro é aberto, não depende de uma qualquer profecia histórica, mas apenas de nós. A sociedade aberta, sustenta Popper, é uma sociedade livre de qualquer tipo de determinismo, dado que não é possível, seja por uma intuição superior, pela definição de um processo histórico irreversível ou por uma infalível predição científica antecipar racionalmente o que será a sociedade futura.
A luta pela sociedade aberta é muito antiga. Iniciou-se com a emancipação humana, quando uma parte da humanidade, pela primeira vez livre do pensamento mágico e coletivo da tribo, começou a pensar individual e criticamente. Esta foi a maior revolução da história humana e terá ocorrido, de forma mais consistente na Grécia Antiga, provavelmente no século VI antes de Cristo. Popper chama a nossa atenção para algo que ocorreu na sequência dessa emancipação: a diferenciação entre leis naturais e leis convencionais, ou seja, leis criadas pelo homem. Nas sociedades primitivas, fechadas, apenas existiam leis do primeiro tipo; o homem regia-se por elas, cumprindo rituais mágicos que estariam de acordo com a natureza, pois não distinguia entre as sanções auto-impostas para punir a transgressão de um tabu e as experiências infligidas pelo meio natural6. Com o advento da sociedade aberta, o homem passou a criar, libertou-se das grilhetas das leis naturais. Um aspeto importantíssimo desta emancipação é que, com ela, o homem adquiriu também responsabilidade moral. O seu comportamento não dependia agora exclusivamente da natureza, mas sobretudo dele próprio. De acordo com Popper, as sociedades fechadas são caracterizadas pelo monismo acrítico; porém, com o advento da sociedade aberta, surgiu o que ele denominou dualismo crítico, quando existia já uma clara distinção entre factos naturais e convenções humanas.
Como seria de esperar, esta mudança não se fez de forma abrupta. Popper refere, inclusive, algumas fases intermédias7. Além disso, as sociedades fechadas não desapareceram completamente, existem ainda hoje muitos vestígios vivos de sociedades fechadas e tribais8, que nos mostram claramente que a sociedade aberta não está absolutamente consolidada. Mas os ataques mais cerrados à sociedade aberta vêm sobretudo da comunidade intelectual, através da influência nefasta de muitos filósofos, entre os quais sobressaem Platão, Hegel e Marx. A opção pela sociedade aberta implica responsabilização, implica decisões morais, com todas as consequências que daí advêm, implica tomarmos nas mãos o nosso próprio destino. Levado a sério, isto representa um peso sobre os nossos ombros, talvez um peso excessivo, para muitos que resolvem enjeitá-lo. Esta atitude de rejeição revela um extremo ceticismo moral, uma descrença no homem e nas suas possibilidades9, e está na base dos regimes autoritários. A necessidade de refúgio na tribo, no grupo, enfim, em qualquer entidade coletiva superior, que resolva os problemas por nós, que nos proteja, é própria do ser humano; e esta atitude defensiva ainda não foi – e talvez nunca seja – completamente superada.
Podemos comparar essa necessidade de refúgio com a necessidade que a criança tem da proteção dos pais. Normalmente, a partir da adolescência a maioria dos jovens emancipa-se, mas muitos só conseguem fazê-lo bastante mais tarde. Podemos considerar que a humanidade se encontrava na adolescência, numa fase de emancipação, portanto, naquele período da Grécia Antiga, quando uma parte se emancipou da tribo. Uma das conquistas daquela época foi a implantação do regime democrático, protagonizada pelos atenienses, sob a liderança de Péricles, ilustre representante da Grande Geração – denominação que Popper deu ao primeiro grupo de homens que lutaram de forma crítica e racional pela Liberdade10. À cidade-estado de Atenas opunha-se, como é sabido, Esparta, onde vigorava um regime tirânico. A guerra entre as duas cidades era inevitável, pois tinham visões antagónicas da sociedade. A Guerra do Peloponeso11 representa a primeira grande batalha que uma parte da humanidade, no caso, os atenienses, teve que travar em defesa da sociedade aberta. E a luta continua.
2- PLATÃO
Platão, cujo tio, Crítias, foi um dos Trinta Tiranos 11, sempre defendeu o lado espartano. Influenciado pela teoria do devir13 de Heráclito, Platão era avesso à mudança. Para ele, toda e qualquer alteração social constitui uma degenerescência da ideia de Estado, da qual todos os estados posteriores são cópias imperfeitas. A base da filosofia platónica é, como se sabe, a sua teoria das formas ou ideias – estas não existem no espaço-tempo (são, portanto, eternas) e por isso não podem ser apreendidas pelos sentidos, apenas pelo pensamento puro. Em consequência, Platão considera que o conhecimento puro ou ciência visa a descoberta ou descrição da verdadeira natureza das coisas, ou seja, da sua realidade oculta ou essência14. Esta ideia é classificada por Popper como essencialismo metodológico, ao qual se opõe o que o ele denomina nominalismo metodológico. Através deste não se procura conhecer a natureza das coisas, mas a forma como elas funcionam15; em vez de se debruçar sobre o que é, como faz o essencialista, o nominalista procura saber como os fenómenos ocorrem. De acordo com Popper, é este o método das ciências naturais (as palavras não designam essências, mas constituem ferramentas para explicar os fenómenos)16, em contraste com as ciências sociais cujos mentores se mantêm, em larga maioria, essencialistas. Esta divergência metodológica está na base, segundo Popper, do atraso da Sociologia, relativamente às ciências naturais, como a Física, a Química ou a Biologia.
Na sua ânsia de encontrar um sistema político que sustenha a mudança, as convulsões sociais, a desagregação da classe governante e, finalmente, toda a decadência e degeneração, Platão formula a seguinte pergunta: Quem deve governar? E a resposta é: o filósofo-rei. (Popper sustenta que Platão pensou nele próprio, como exemplo maior de governante)17. Essa pergunta essencialista formulada por Platão está na origem da sua teoria historicista e das dos filósofos historicistas que se lhe seguiram, como Rousseau, Comte, Mill, Hegel e Marx. Popper opõe a essa pergunta essencialista uma outra nominalista: Como poderemos organizar as instituições políticas de forma a evitar que os governantes perniciosos ou incompetentes provoquem danos excessivos?18 A diferença entre a primeira e a segunda pergunta equivale à diferença entre ditadura e democracia, porque a primeira indaga sobre quais as pessoas ou grupos que devem exercer o poder, e a segunda sobre como criar as instituições que limitem a ação dessas mesmas pessoas ou grupos. Isto quer dizer que, em democracia, o poder é sempre limitado, ao contrário das ditaduras onde a crítica ao poder não existe, porque é reprimida, daí o poder ser potencialmente totalitário19.
Não admira, portanto, que Platão, deteste a democracia, que aliás ridiculariza nas suas obras20, nomeadamente na República21. Platão considera a democracia um sistema político muito afastado da ideia de Estado, ou seja, do modelo intemporal de Estado do qual todas as cópias mundanas derivam. O regime que mais se aparenta ao Estado perfeito e imutável é a timocracia22 (ou timarquia), o governo dos mais nobres, que procuram honra e fama; depois surge a oligarquia, caracterizada pelo domínio das famílias mais ricas; posteriormente, vem a democracia, regime da liberdade, isto é, da ausência de leis; e, finalmente, a tirania, a última enfermidade do Estado23. Há, portanto, uma degradação desde a timocracia até a tirania. Platão pretende travá-la, impondo uma rígida estratificação social, onde cada indivíduo cumpre apenas o seu papel dentro da classe a que pertence. Trata-se de uma sociedade parada, fechada e coletivista, idealizada de modo a preservá-la de qualquer convulsão social, uma vez que são as perturbações à ordem social estabelecida que provocam a degeneração, isto é, a passagem dos melhores para os piores regimes. Um Estado imóvel é o que mais se aproxima da ideia platónica de Estado.
Embora a descrição que Platão faz do Estado perfeito seja muitas vezes considerada como um plano utópico, Popper toma-a à letra, e leva a sério o que Platão declara, ou seja, não vê na obra platónica uma qualquer utopia futura, mas sim o desejo de regresso ao passado estratificado da sociedade tribal. Uma vez que Platão detestava a mudança, ele acabou por defender um estado com apenas duas grandes classes sociais – a elite governante e a grande massa de governados. Sobre esta não demonstrou grandes preocupações, visto tratar-se, afinal de gado humano, que apenas deve ser dominado. A preocupação vai para a classe dominante, para que esta não se divida, face a um possível empobrecimento ou a uma riqueza excessiva. Assim, Platão defende o comunismo, isto é, a abolição da propriedade privada, e a privação da ligação pessoal a mulheres e crianças. Nenhum membro da classe dirigente deve ser capaz de identificar seus filhos ou mulheres24. Assim se preservará a unidade da classe dirigente, imprescindível para a estabilidade; e qualquer mistura ou mudança de uma classe para outra será considerada um crime contra a cidade25. A classe governante deve assumir, portanto, a sua superioridade e, inclusive, à semelhança de Esparta, praticar o infanticídio com fins eugénicos, devendo ser treinada como uma classe de guerreiros profissionais26. Platão defende a escravatura e, como já foi dito, uma rígida estratificação social. Além disso, é um coletivista convicto: defende um estado holístico e totalitário, onde o indivíduo deve comportar-se estritamente dentro do que é conveniente para o próprio Estado.
Platão é, pois, inimigo de tudo o que é individual. Ele vê no individualismo o maior perigo para o seu projeto totalitário. Assim, até o que a natureza concedeu a cada indivíduo deve estar ao serviço do coletivo. Os nossos próprios olhos, ouvidos ou as nossas mãos veem, ouvem e agem não em função de um ser particular, mas de toda a comunidade, sendo os homens moldados de forma a consentirem todos na mesma unanimidade de censura ou louvor, de prazer ou tristeza relativamente às mesmas coisas e em uníssono27. Perante esta aversão a tudo que é individual, não admira que a conceção platónica de Justiça, tema central da República (não devemos esquecer-nos que o subtítulo desta obra é Da Justiça), se resuma a tudo o que favorece o seu Estado superior, sendo o contrário, considerado como injustiça. Platão examina na República as teorias sobre a Justiça mais importantes da sua época, mas não discute o conceito de isonomia, ou seja, da igualdade perante a lei, o que é muito estranho, tanto mais que o mesmo fora discutido no Górgias, diálogo anterior à República. Esta omissão só pode entender-se como reação aos movimentos igualitários e humanitários surgidos na época de Platão, os quais defendiam uma teoria humanitária de justiça, baseada em três propostas, a saber “(a) o princípio igualitário propriamente dito, isto é, a tentativa de abolir todos os privilégios naturais, (b) o princípio genérico do individualismo e (c) o princípio de que o Estado deve ter como função e finalidade garantir a liberdade dos cidadãos”. Em contrapartida, o platonismo propõe (a1) “o princípio de que existem privilégios naturais, (b1) o princípio geral do holismo ou coletivismo e (c1) o princípio de que o indivíduo deve ter por função e finalidade manter, fortalecer e garantir a estabilidade do Estado28.
Podemos considerar a proposta platónica como precursora dos totalitarismos do século XX, que tanto marcaram Popper e o levaram a escrever A Sociedade Aberta e seus Inimigos. Não há qualquer dúvida de que a filosofia de Platão se baseia numa (a)moralidade coletivista, tribal e totalitária, sendo apenas bom aquilo que se subordina aos interesses do grupo, tribo ou Estado. Além disso, esta subordinação aos interesses superiores do Estado abriu caminho para a filosofia belicista de Hegel, de onde derivaram, por diferentes vias, os totalitarismos de direita e de esquerda que tantas vítimas inocentes causaram em tempos mais recentes. Ao nível das relações internacionais, a filosofia do Estado perfeito de Platão conduziu à noção de que o Estado nunca erra enquanto conservar a sua força; que está no seu direito não só de exercer a violência sobre os seus cidadãos quando isso conduz a um acréscimo do seu poder, mas ainda de lançar ofensivas contra outros estados, desde que elas não acarretem o seu enfraquecimento. A ilação que resulta desta atitude, isto é, o reconhecimento expresso da amoralidade do Estado e, consequentemente, a apologia do niilismo moral nas relações internacionais, foi ultimada por Hegel29.
Antes de irmos a Hegel, porém, ainda algumas palavras sobre Platão. Para Popper, a República é um manifesto político do seu tempo, recheado, aliás, de alusões a problemas e personagens contemporâneos. Platão preocupou-se sobretudo com a preservação do Estado estratificado que preconizou. Esse Estado deveria ser dirigido pelos mais sábios, pelos filósofos, por uma determinada casta em comunicação com o divino. Preocupado sempre com a desintegração do Estado, Platão conhecia os perigos de um excesso populacional (que aliás tinha estado na origem da desintegração das tribos do seu tempo) e procurou criar limites aos nascimentos, introduzindo o que ficou conhecido pelo número platónico, uma quantificação que nunca foi totalmente explicitada, um número místico que só seria do conhecimento dos filósofos-reis. Platão é, pois, um elitista e um inimigo da liberdade. Por que é então tão prestigiado? Em primeiro lugar, pelo seu indiscutível talento, inclusive o da dissimulação. Particularmente na República, ele não deixa de preparar o leitor para as suas invetivas reacionárias, tendo em vista convencê-lo de que as suas intenções são humanitárias. Para tal, recorre a variados subterfúgios linguísticos, trocadilhos e expressões como os amigos comungam de todos os bens que possuem30. Esta tática convenceu muitos dos seus seguidores, que deturparam as ideias originais do filósofo com traduções suavizadas e humanizadas das suas obras; e fez também com que interpretassem com a mesma suavidade e humanidade as principais ideias de Platão. Popper não alinha nesse coro31. Ele desmascara os filósofos totalitários e historicistas mostrando como os seus argumentos são falaciosos, tendenciosos e reacionários.
3- HEGEL
Talvez o maior ataque contra a razão tenha vindo de Hegel, um dos maiores charlatães da história das ideias. É quase inacreditável como este homem (é muito difícil designá-lo filósofo) angariou o prestígio que se conhece, ao ponto de ser reconhecido por muitos como o maior filósofo alemão. Sobre ele já se escreveu muito, mas o seu compatriota e contemporâneo Schopenhauer foi um dos que, sem dúvida, o retratou melhor: Se alguma vez quiseres embotar as capacidades de um jovem e privar-lhe o cérebro de qualquer espécie de pensamento, o melhor que podes fazer é dar-lhe a ler Hegel. Porque as monstruosas acumulações de palavras, que se anulam e contradizem mutuamente, levam o espírito a atormentar-se em vãs tentativas para pensar o que quer que seja em relação a elas até sucumbir finalmente a uma completa exaustão. Assim, toda a capacidade de pensar é de tal modo destruída que o jovem acabará por confundir a verbosidade vazia e oca com o pensamento real. Um tutor receoso de que o seu pupilo se possa tornar demasiado inteligente para lhe descobrir os planos, pode impedir esse contratempo sugerindo inocentemente a leitura de Hegel32.
É difícil saber por onde começar quando abordamos o pensamento de Hegel. Como se sabe, ele é mais conhecido pela dialética, pelo idealismo e também pelo romantismo, próprios da época em que viveu. Para Hegel não há barreiras, nem impossíveis. Onde outros esbarram em alguma dificuldade, Hegel resolve o problema com a dose certa de engenharia semântica e um pouco de lógica barata, tudo de categoria inferior, mas bem embalado num palavreado pomposo e incompreensível.
Talvez isto fique um pouco mais claro se esclarecermos, desde já, que Hegel era um assalariado do Estado prussiano, particularmente, do rei Frederico Guilherme III, que contratou o maior idealista alemão para que este subvertesse as ideias igualitárias saídas da revolução de 1789, em França, as quais ameaçavam o poder totalitário daquele soberano. Recorremos uma vez mais a Schopenhauer para ilustrar este aspeto revelador da biografia de Hegel, a sua relação com o poder político: A filosofia é indevidamente utilizada: do lado do Estado, como um instrumento, do lado oposto, como um meio de lucro33. Muitos outros corroboram esta afirmação de Schopenhauer, pois, de facto, parece improvável que Hegel se pudesse converter na figura mais influente da filosofia germânica, se não tivesse por trás de si a autoridade do Estado prussiano34.
Hegel cumpriu o papel que Frederico Guilherme lhe reservou, na perfeição. Tendo em vista demonstrar a excelência do Estado, em geral, e do Estado prussiano, em particular, Hegel não teve dificuldades em deturpar as ideias humanitárias saídas da Revolução Francesa, com vista a ajustá-las aos objetivos do seu chefe. Conseguiu a proeza de proceder à transformação dialética da exigência de uma constituição na de uma monarquia absoluta35 e de distorcer a igualdade transformando-a em desigualdade. Com efeito, admite a igualdade dos cidadãos perante a lei, mas afirma que essa igualdade não passa de uma tautologia, concluindo que a igualdade perante a lei é a mesma que existe fora da lei, isto é, igualdade meramente formal, a qual é superada pela desigualdade concreta e real dos indivíduos, e que esta pode ser constatada nos estados modernos. Distorções deste tipo pontuam toda a incrível “filosofia” de Hegel.
A escrita obscura deste filósofo insere-se na tradição alemã, mas consegue, apesar de tudo, ir mais além. Veja-se este magnífico exemplo, retirado da sua Filosofia da Natureza: O som é a mudança verificada na condição específica de segregação das partes materiais e da negação dessa condição; é meramente uma idealidade abstrata ou ideal, por assim dizer, dessa especificação. Mas esta mudança é, por consequência, em si mesma imediatamente a negação da subsistência material específica; o que é, portanto, a idealidade real da gravidade específica e da coesão, isto é, o calor36. Esclarecedor, não?
Sendo Hegel, afinal, um mero charlatão, para quê preocuparmo-nos com ele? Porque a sua “doutrina” influenciou decisivamente quer a extrema-direita, quer a extrema-esquerda, e os movimentos totalitários que tantas vítimas inocentes fizeram na Europa e no mundo; e porque, por incrível que pareça, a sua influência é ainda grande junto da comunidade académica, sendo, inclusive, considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos. Hegel conseguiu essa proeza baseando a sua filosofia em dois grandes pilares – a dialética e a teoria da identidade. Ao contrário de Platão, Hegel acreditava no progresso. O progresso dialético.
A dialética de Hegel, porém, é uma deturpação das antinomias kantianas. Kant afirmava que, fora do campo da experiência, a razão entra em conflito (ou contradição) consigo mesma, não podendo decidir sobre as questões metafísicas ou ideias puras. Por exemplo, não é possível a razão decidir sobre se o mundo teve um início ou existiu sempre: sem o apoio da experiência, para cada afirmação haverá sempre uma contra-afirmação válida. Hegel resolveu este problema afirmando que é da própria natureza da razão contradizer-se, e que é justamente dessa forma que a razão se desenvolve; dialeticamente, ou seja, em ritmo ternário: tese, antítese e síntese. Todas as coisas são em si mesmas contraditórias37, defende Hegel, marcando uma posição que não só significa o fim de toda a ciência como de toda a argumentação racional38.
Não adianta, pois, perdermos muito mais tempo com Hegel. O essencial é perceber que o seu intuito foi o de demonstrar as virtudes do Estado totalitário prussiano, concluindo que a Constituição, reclamada por muitos, não era necessária, pois a forma mais perfeita de Estado é a monarquia absoluta, tendo como modelo a monarquia prussiana e o seu chefe, Frederico Guilherme III. Com este fim, o grande Hegel não se coibiu de praticar toda a espécie de tropelias. Conseguiu demonstrar que a nação tem um espírito (uma das características do nacionalismo é tratar os estados como personalidades) e esse espírito age na história. Uma vez que o Estado deve ser poderoso, deve desafiar os poderes de outros estados. Deve afirmar-se no “Palco da História”, deve demonstrar a sua essência peculiar ou Espírito e o seu caráter nacional “estritamente definido” pelos seus feitos históricos, e deve, fundamentalmente, visar o domínio do mundo39.
O efeito pernicioso de Hegel foi enorme junto da intelectualidade alemã40, mas não só. Ainda hoje ele é admirado por intelectuais e académicos de todo o mundo. As suas ideias no campo político-social podem resumir-se nas seguintes: a) o Estado é a incarnação do Espírito e uma nação escolhida está destinada a dominar o mundo; b) o Estado, inimigo de todos os outros, deve afirmar-se pela guerra; c) tudo é admissível para a vitória do Estado, inclusive a mentira e a distorção dos factos, o que importa é o sucesso; d) a guerra é um bem, só interessam a vitória, a fama, o destino e a guerra, os bens mais desejáveis; e) o Grande Homem é um misto de conhecimento e paixão; f) o ideal da vida heroica é o de viver perigosamente, em oposição à vida medíocre da burguesia41.
Enfim, Hegel representa o elo perdido entre o totalitarismo de Platão e o marxismo. O espírito hegeliano foi substituído, em Marx, pelos interesses económicos e materiais e, no fascismo, pelo sangue ou pela raça. Eis o brilhante legado do grande charlatão.
4- MARX
Popper acredita que Marx é bem intencionado – não é um reacionário como Platão e Hegel. Marx indignou-se justamente com a miséria social existente no seu tempo, particularmente em Inglaterra, fruto de um capitalismo desenfreado, sem regras e sem direitos sociais de qualquer espécie. Como sempre acontece, as principais vítimas foram os mais desfavorecidos, incluindo mulheres e crianças, obrigados a trabalhar em condições sub-humanas. Marx constata que o ser humano vive, digamos, em duas dimensões. O reino da liberdade e o reino da necessidade. Este vem primeiro, pois sem satisfazer as necessidades básicas do seu metabolismo, o homem nunca será livre. Marx afirma que a burguesia delega no povo essa necessidade básica – satisfeita através do trabalho – pelo que ela (burguesia) acaba por ser livre, ao passo que os trabalhadores não são mais que escravos.
Marx quer reduzir a servidão do trabalho de modo a que possamos ser todos livres durante uma certa parte da nossa vida. Assim, a liberdade (espiritual) depende da necessidade (material). É este o dualismo de Marx. Daí que, do ponto de vista científico e causal, os pensamentos e as ideias devam ser tratados como superestruturas ideológicas com base nas condições económicas. O homem estará acorrentado enquanto estiver dominado pela economia. Há, por isso, que dar o salto do reino da necessidade para o da liberdade. Toda a ênfase é colocada, portanto, na economia, sobretudo nos meios materiais de produção. No caso concreto do capitalismo, a maquinaria, em contraste com o estádio anterior – o feudalismo – em que prevalecia a produção manual.
A teoria historicista de Marx desenvolve-se em três fases, sendo que o Capital trata sobretudo da primeira. São elas: 1- Análise das forças económicas do capitalismo e a sua influência sobre as relações entre as classes; 2- Inevitabilidade da revolução; 3ª Emergência da sociedade sem classes. Como é evidente, basta observar as democracias ocidentais da atualidade para se concluir que o processo histórico previsto por Marx não se concretizou (embora muito marxistas ainda esperem por essa concretização). Na primeira fase, Karl Marx constata que existe uma tendência para o aumento da produtividade do trabalho, devido à acumulação dos meios de produção e à utilização da maquinaria. Esta acumulação deverá fazer com que cada vez maior riqueza fique num menor número de pessoas, ou seja, nas mãos da burguesia. Pelo contrário, a esmagadora maioria das pessoas, o proletariado, ficará na miséria. Na segunda fase, as condições da primeira são tidas como assentes e daí se tiram duas conclusões: a) excetuando a burguesia exploradora e o proletariado explorado, todas as outras classes desaparecem ou tornam-se insignificantes; b) a crescente tensão entre as duas classes levará inevitavelmente a uma revolução social. Na terceira fase, as conclusões da segunda são igualmente tidas como assentes. E a conclusão final é a de que, após a vitória dos trabalhadores sobre a burguesia, haverá uma sociedade constituída por uma só classe e, portanto, uma sociedade sem classes e sem exploração – o socialismo42.
Popper contesta esta conclusão de Marx. Não há qualquer razão para pensar que os indivíduos que formam o proletariado mantenham a sua unidade de classe, depois de cessar a pressão da luta contra o inimigo comum. Qualquer conflito latente de interesses é agora suscetível de dividir o proletariado, anteriormente unido, em novas classes, desencadeando uma nova luta de classes. No que diz respeito à União Soviética, a história daria razão a Popper, pois ali surgiria, após a revolução, uma nova aristocracia ou burocracia. Popper não acredita também que todas as classes desapareçam (ou se tornem insignificantes) para além do proletariado e da burguesia. O mais provável é que se formem outras classes43. Havendo outras classes, para além da burguesia e do proletariado, a inevitabilidade da revolução de Marx parece estar comprometida. E, por falar em revolução, como ela se realizará? Popper acusa Marx (e os marxistas) de ambiguidade em relação a isto: a revolução pode ser violenta ou não. Depende. A ambiguidade deve-se ao caráter historicista do modelo de Marx, ou seja, o que é importante é que o objetivo se cumpra, pouco importando a forma de chegar lá. Esta ambiguidade em relação à violência é insuportável para Popper, uma irresponsabilidade gravíssima, acentuada pela inoperância dos comunistas: quando os fascistas tomaram o poder, os comunistas nada fizeram, pois pensavam que o advento do fascismo seria o estádio final do capitalismo.
A profecia de Marx foi, assim, largamente contrariada pelos factos. A teoria da Marx é, além de profética, puramente historicista, no sentido atribuído ao termo por Popper. Não existe no programa de Marx (se é que existe “programa”) qualquer tipo de engenharia social. Qualquer reforma social é considerada por Marx como utópica. Por isso, Lenine, seu discípulo, também não tinha qualquer preparação em questões económicas e, quando tomou o poder na Rússia, percebeu que o marxismo não o podia ajudar nesse campo. Ele próprio afirmou: Não conheço nenhum socialista que tenha tratado desses problemas; nada havia escrito sobre estas questões nem nos textos bolchevistas nem nos menchevistas. Lenine decidiu então adotar medidas que representavam um retorno temporário à empresa privada. A NEP (Nova Política Económica) e os Planos Quinquenais, etc., nada têm a ver com as teorias do socialismo científico outrora propostas por Marx e Engels. Como Lenine admite, dificilmente se encontra na obra de Marx uma palavra sobre a economia do socialismo, excetuando slogans inúteis como de cada um segundo as suas capacidades e a cada um segundo as suas necessidades.
Segundo Marx, o sistema de todas as relações de produção constitui a estrutura económica da sociedade, isto é, o sistema social, o qual, por sua vez, determina as ações dos indivíduos, quer sejam burgueses ou proletários. As leis do mecanismo social tornam inúteis quaisquer esforços dos indivíduos para as contrariar. Marx revela-se, assim, para além de historicista, um determinista. Neste cenário pré-determinado há muito pouco espaço para a política; há apenas que seguir o determinismo da história. É por isto que Marx dá (como se queixava Lenine) pouca importância às reformas político-jurídicas. Marx acredita que as leis nunca serão alteradas a favor do proletariado enquanto os burgueses estiverem no poder.
Marx, como vimos, não é um reformador social. É sobretudo um profeta. Há uma dimensão religiosa, sem dúvida, no marxismo. Existe a crença de que tudo decorrerá de acordo com a profecia de Marx, mesmo que a realidade teime em negar essa mesma profecia. O mundo é muito diferente de há 150 anos, quando Marx escreveu o Capital; e muito diferente, igualmente, do mundo que ele profetizou nessa obra. As condições sociais são incrivelmente melhores do que eram naquela época; e incrivelmente melhores, igualmente, que aquelas em que os cidadãos comuns viveram nos estados onde a revolução socialista (temporariamente) vingou. Marx falhou. O sistema capitalista foi melhorado, aperfeiçoado, aprimorado. Não é um sistema perfeito, mas pode ser reformado, e isto é impossível num regime comunista. Popper ensinou-nos que não é possível combinar socialismo com liberdade individual. E que a liberdade é o valor mais alto em qualquer regime político. Liberdade com limites, evidentemente, porque a minha liberdade pessoal não pode sobrepor-se a nenhuma outra.
Apesar de tudo, Popper revela simpatia pelo esforço de Marx, mesmo discordando da dimensão historicista da sua obra. Popper condena sobretudo o marxismo. A maioria dos marxistas nem sequer entenderam Marx. Curiosamente, a simpatia que este pode ter provocado em Popper parece ter-se desvanecido um pouco, depois deste ter lido o livro de Leopold Schwarzschild sobre Marx, The Red Prussian. Em nota publicada na última página da obra aqui analisada, numa adenda de 1965, Popper deixa-nos a seguinte advertência: Muito embora o livro [The Red Prussian] possa nem sempre ser justo, contém testemunhos documentais, especialmente da correspondência entre Marx e Engels, que mostram que Marx não era tão humanitário e tão amante da liberdade como o meu livro deixa transparecer. Schwarzschild descreve-o como um homem que via no proletariado, sobretudo, um instrumento da sua própria ambição pessoal. Embora esta forma de colocar a questão possa ser mais dura do que a evidência indicaria, há que admitir que a própria evidência é esmagadora44.
5- CONCLUSÃO
Não foram apenas Platão, Hegel e Marx os visados por Popper neste grandioso livro45. Mas estes reuniam as principais características historicistas que Popper queria combater. Sobretudo, o essencialismo, inaugurado por Platão, quando se questionou sobre quem deveria governar. A ânsia de responder a esta pergunta faz com que até os melhores espíritos passem por cima da liberdade – e esta não pode ser secundarizada, é essencial para a sociedade aberta. Tudo o que restrinja a liberdade restringe igualmente a nossa responsabilidade. Significa refugiarmo-nos em uma qualquer entidade superior a nós, que pode decidir por nós; significa, como mostra claramente Popper, o regresso ao coletivismo da tribo.
Contra esta visão fechada da sociedade se opuseram, primeiro, a Grande Geração, na Grécia, depois o movimento cristão (antes do cristianismo ser aceite como religião oficial do Império Romano) e, posteriormente, todos os amantes da liberdade, da tolerância e da razão. Popper, sem qualquer dúvida, está entre eles.
A Sociedade Aberta e Seus Inimigos foi escrita quando decorria a II Guerra Mundial. É bastante curioso reparar que nem por uma vez Popper menciona Hitler. Nem Estaline. Nem Mussolini. A aversão de Popper a estas personalidades é tão forte que ele preferiu não lhes atribuir importância. Mas, mesmo sem os mencionar, o ataque que lhes lançou é, com certeza, o maior de sempre, pois nunca ninguém tinha ido tão longe, à raiz das ideologias totalitárias. Estas permanecem vivas, apesar dos ditadores irem morrendo. Popper acredita que a razão é o instrumento mais adequado para combatê-las. E que a razão é ainda o instrumento mais eficaz para se garantirem a paz e a liberdade, dois valores interdependentes. Só em liberdade e paz poderemos esgrimir com argumentos em vez de bombas. Esta é, para quem, como Popper, abomina a violência, a superioridade da Sociedade Aberta.
ADENDA
Certa vez ouvi, num documentário, um músico de quem não me recordo nome nem rosto, dizer que dedicara a vida inteira a estudar o Concerto nº 2 para piano e orquestra, de Rachmaninoff. Fiquei a pensar naquilo. Também eu era (e sou) fã incondicional dessa obra.
Uma das formas de encontrarmos um sentido para a vida talvez seja essa – descobrirmos a nossa obra e consultá-la vezes sem conta, como quem tem a Bíblia permanentemente à cabeceira.
Existem várias obras na minha vida e uma delas é a de Rachmaninoff, que citei acima. Mas se houvesse alguma que eu tivesse de considerar a minha Bíblia, essa seria, sem dúvida, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Popper. Com ela aprendo todos os dias, se é lícito falar em aprender. No fundo, talvez tudo se resuma a uma questão de fé. Mesmo que a fé seja, como acontece com Popper, uma fé na razão.
******************************
Notas:
1 Diz-nos Popper: “No meu livro The Poverty of Historicism, procurei argumentar contra semelhantes pretensões, mostrando que, apesar da sua plausibilidade, na verdade elas resultam de uma interpretação equívoca do método científico, ignorando em especial a distinção entre previsão científica e profecia histórica. Ao mesmo tempo que me ocupava da análise sistemática e da crítica das pretensões historicistas, procurei recolher algum material passível de ilustrar a evolução destas filosofias. As notas coligidas para este propósito constituíram a base do presente livro.” (Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Editorial Fragmentos, Lisboa, 1993, volume I, p. 15).
2 De acordo com Popper, os termos “sociedade aberta” e “sociedade fechada” foram usados pela primeira vez por Henri Bergson na sua obra Two Sources of Morality and Religion. (Ob. cit., p. 211).
3 De acordo com Popper, o historicismo caracteriza-se por “uma abordagem das ciências sociais, que pressupõe que a previsão histórica é o seu objectivo primordial, e que pressupõe que este objectivo é atingível por descobrir os ritmos ou padrões, as leis ou as tendências que estão subjacentes à evolução da história” (A Pobreza do Historicismo, Editora Esfera do Caos, Lisboa, 2007, p. 3)
4 A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Editorial Fragmentos, Lisboa, 1993, volume II, p. 57. Além de “charlatão”, Hegel é ainda apelidado de “palhaço” (juntamente com Fichte). De realçar que estes “mimos” não são habituais no discurso de Popper, bem pelo contrário. Em nenhuma outra parte Popper foi tão longe na linguagem crítica.
5 A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Editorial Fragmentos, Lisboa, 1993, volume I , p.84.
6 ob. cit., p. 75.
7 Popper refere, como fases intermédias, o “naturalismo biológico”, o “positivismo ético ou jurídico” e o “naturalismo psicológico ou espiritual”.
8 Os exemplos são abundantes. Bastará lembrarmo-nos dos partidos políticos, do fundamentalismo religioso, das claques desportivas. Os seus membros frequentemente negam a realidade para a adequarem aos seus objetivos coletivos. O pensamento individual fica limitado. Ora, isto são caraterísticas mais do que evidentes do tribalismo.
9ob. cit., p. 86.
10 Além de Péricles, faziam parte da Grande Geração: Sófocles, Tucídides, Aristófanes, Heródoto, Protágoras, Demócrito, Alcidamas, Licofronte, Antístenes, Górgias e Sócrates.
11 A Guerra do Peloponeso desencadeou-se entre Atenas e seu império contra a Liga Peloponesa liderada por Esparta, e decorreu entre 431 a.C. e 404 a.C. Terminou com a instalação do governo dos Trinta Tiranos, fiéis a Esparta.
12 Como vimos na nota anterior, o regime oligárquico que resultou da Guerra do Peloponeso.
13 O devir é o que acontece com todas as coisas, uma alternância entre os contrários de que todas as coisas são constituídas. A realidade emana da guerra entre os opostos, de que todas as coisas são constituídas.
14 Foi este essencialismo que Kant precisamente negou, ao distinguir entre fenómeno (como as coisas se nos apresentam) e númeno (as coisas-em-si). O númeno é, para Kant, inacessível aos seres humanos.
15 “De acordo com o essencialismo metodológico, há três formas de conhecer uma coisa: podemos conhecer a sua realidade imutável ou essência; podemos conhecer a definição da essência; e podemos conhecer o seu nome.” (Ob. cit., p. 47). Por aqui se vê que o essencialista ama as definições. Provavelmente, este essencialismo platónico está na origem (pelo menos está ligado) das filosofias modernas da linguagem e do positivismo. Claro que Popper discorda de todas elas.
16 Ob. cit., p. 47.
17 Ob. cit., pp. 163-64-65.
18 Ob. cit., p. 134.
19 Diz-nos Popper: “Aqueles que acreditam que a primeira pergunta é fundamental partem do princípio que “essencialmente” o poder político não deve ser fiscalizado (unchecked), isto é, que estando nas mãos de um indivíduo ou de um organismo coletivo – por exemplo, uma classe -, aquele que o detém pode fazer mais ou menos o que estiver na sua vontade, devendo acima de tudo reforçá-lo, tornando-o o mais possível ilimitado e livre de controlo. Nesta perspetiva, o poder político é fundamentalmente soberano e a questão mais importante que suscita consiste em saber “quem deverá ser o soberano?” (ob. cit., p. 134).
20 República, Livro VIII, 560-564.
21 De acordo com Popper, Platão é idealizado por muitos dos que estudam a sua obra, incluindo tradutores da mesma. Assim, muitos termos são suavizados ou deturpados para nos darem uma visão mais humana do mestre. O próprio termo “República” se inclui nesse rol, tendo em vista dar uma ideia liberal ou mesmo revolucionária. O termo mais correto como tradução do original grego seria “Constituição”, “Estado” ou “Cidade-Estado” (Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Editorial Fragmentos, Lisboa, 1993, volume I, p. 103).
22 Os melhores exemplos dos regimes timocráticos eram, para Platão, as aristocracias tribais de Creta e de Esparta ou Lacedemónia (ob. cit., p. 62).
23 Ob. cit., p. 57; República, Livro VIII, 544c.
24 É curioso verificar que uma obra do século XIX, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels, poderia ser uma obra de Platão. A apologia da gens não é mais que a apologia da tribo. Diz-nos Engels, nesta obra (p.70): “os germânicos estavam quase inteiramente de acordo com os espartanos, entre os quais, conforme vimos, também não havia desaparecido totalmente o casamento pré-monogâmico”.
25 Ob. cit., p. 65.
26 Platão vai ao ponto de sugerir que as crianças provem o sangue da batalha: “não te lembras que afirmámos que era preciso levar as crianças ao combate, para observarem de cima dos cavalos, e que, se houvesse condições de segurança, se deviam aproximar e provar o sangue, como os cães?” (República, Livro VII, 537a).
27 Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Editorial Fragmentos, Lisboa, 1993, volume I, p. 116.
28 Ob. cit., pp 108/9.
29 Ob. cit., p. 120.
30 Ob. cit., p. 117.
31 Ver excerto do Prefácio à primeira edição da “Sociedade Aberta e Seus Inimigos” citado na “Introdução”. (Ob. cit., p. 9).
32 Schopenhaeur, citado em Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Editorial Fragmentos, Lisboa, 1993, volume II, p. 78.
33 Ob. cit., p. 38.
34 Ob. cit., p. 35.
35 Ob. cit., p. 48.
36 Ob. cit., p. 34
37 Popper cita Hegel (Ob. cit., p. 44).
38] Ob. cit., p.44.
39 Ob. cit.,p. 65.
40 Citemos apenas alguns dos pensadores românticos, nacionalistas ou racistas alemães influenciados por Hegel: Heinrich von Treitschke (1834-1896), Ernst Haeckel (1834-1919), Wilhelm Schallmayer (1857-1919), Edmund Husserl (1859-1938), Max Scheler (1874-1928), Moeller van den Bruck (1876-1925), Ernst Krieck (1882-1947), Oswald Spengler (1880-1936), Karl Jaspers (1883-1969), Alfred Rosenberg (1893-1946), Hans Freyer (1887-1969), Fritz Lenz (1887-1976) e Martin Heidegger (1889-1976), entre muitos outros.
41 Ob. cit., pp. 64-65.
42 Ob. cit., pp.135-144.
43 Popper enumera algumas delas: grandes latifundiários; outros proprietários rurais; trabalhadores rurais; nova classe média; operários industriais; proletariado-ralé; etc.
44 Ob. cit., p. 381.
45 Há vários outros “monstros sagrados” da filosofia visados nesta obra de Popper. Heráclito, Aristóteles, Fichte, Wittgenstein, Karl Jaspers e Heidegger são, talvez, os alvos das críticas mais fortes, além de Platão, Hegel e Marx, evidentemente.
******************************
Nossas edições:
- Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Volume I (Platão), Editorial Fragmentos, 5ª edição revista, Lisboa, 1993.
- Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Volume II (Hegel e Marx), 5ª edição revista, Editorial Fragmentos, Lisboa, 1993.
******************************
Foto de Popper:
******************************

 Voltaire, um homem tolerante, faz um retrato surpreendentemente intolerante (e muito curioso) sobre os egípcios no seu livro “Tratado sobre a Tolerância por Ocasião da Morte de Jean Calas”, de 1763. Numa extensa nota de rodapé (n. 52), Voltaire, na página 54 (Relógio D’Água, 2015), escreve o seguinte.
Voltaire, um homem tolerante, faz um retrato surpreendentemente intolerante (e muito curioso) sobre os egípcios no seu livro “Tratado sobre a Tolerância por Ocasião da Morte de Jean Calas”, de 1763. Numa extensa nota de rodapé (n. 52), Voltaire, na página 54 (Relógio D’Água, 2015), escreve o seguinte.