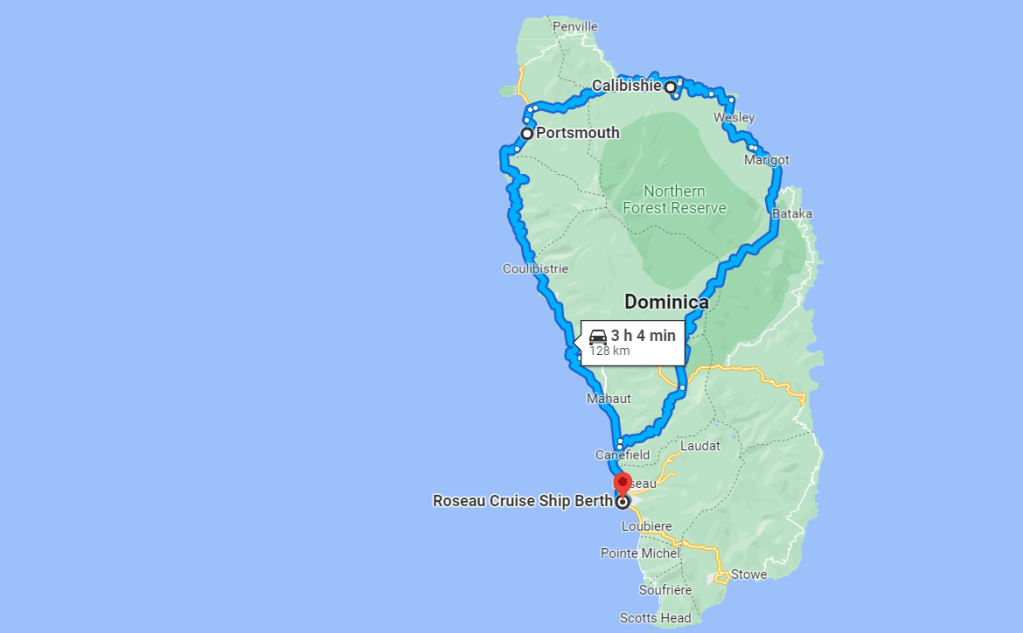Planear uma viagem de um mês através de 10 países não é tarefa fácil. Há que reservar voos, tratar de vistos, fazer um seguro de viagem, procurar hospedagens e transportes de vários tipos, para além de levar a cabo as sempre convenientes pesquisas sobre os locais a visitar. Esta é a primeira fase de qualquer viagem — a preparação. Como temos referido, as viagens têm sempre três fases, normalmente de duração decrescente — preparação, viagem (propriamente dita) e registo. Decorridas as duas primeiras, chegámos agora à última fase.
Saímos de Lisboa num voo da KLM que saiu muito atrasado devido ao mau tempo no aeroporto de Amsterdão, onde tínhamos escala antes de seguirmos para Seul, num segundo voo da mesma companhia aérea, que acabámos por perder. Chegámos a Amsterdão já de madrugada, com todos os balcões e escritórios fechados, e ficámos no aeroporto até de manhã, à espera que abrisse o escritório da KLM e nos reservassem um novo voo para Seul. O apoio ao cliente foi péssimo e ainda hoje estamos em litígio com a KLM, pois marcaram-nos um voo alternativo que posteriormente cancelaram, e agora não querem assumir a devida indemnização1. Só conseguimos um voo da Korean Air quase 24 horas depois de chegarmos a Amsterdão, pelo que tivemos tempo mais do que suficiente para apanharmos um comboio até à cidade e passearmos um pouco por lá. Nada de especial, o tempo estava péssimo, chovia e fazia bastante frio.

******************************
Seul, Coreia do Sul
Três dias depois de sairmos de Lisboa, chegámos estoirados ao aeroporto de Incheon, a meio da tarde, com duas noites de sono perdidas. Os portugueses não precisam de K-ETA para entrarem na Coreia do Sul, os brasileiros, sim. De qualquer forma, é vantajoso obter o K-ETA online por apenas 7€ e não ter de preencher o formulário de entrada no aeroporto, ganhando tempo e paciência após um voo cansativo. Foi o que fizemos. Depois dos procedimentos necessários e da recolha da bagagem (se for o caso), a primeira coisa a fazer é comprar o cartão T-Money (pouco mais de 3€) e carregá-lo para se poder apanhar o comboio AREX, que segue direto para o centro da cidade de Seul. Pode comprar-se o cartão ainda no aeroporto, numa loja de conveniência dentro do terminal ou nas máquinas de venda, junto do acesso à estação dos comboios. O T-Money só se pode carregar com dinheiro, pelo que convém ter algum para o efeito. Depois é só usar o cartão no comboio, no metro, nos autocarros, no táxi e numa miríade de outros produtos e serviços. Há ATMs no aeroporto e lojas de câmbio onde se pode obter dinheiro coreano. Aconselhamos viajar munido com um cartão Revolut, ou similar.
Tínhamos reservado, estrategicamente, um apartamento muito perto da estação central de Seul, pelo que bastou uma caminhada de menos de 5 minutos até tomarmos um duche, deitarmo-nos e dormirmos umas 4 horas para recuperarmos alguma energia. Só saímos já bem de noite para comermos qualquer coisa e fazermos um pequeno passeio a pé pelo bairro de Myeongdong antes de regressarmos ao apartamento.
No dia seguinte estávamos como novos e acordámos cedo. Fizemos uma longa caminhada até ao palácio de Gyeongbokgung. (Quem nos conhece sabe que somos grandes caminhantes; é normal, quando viajamos, fazermos 20, e às vezes mais, quilómetros por dia). Pelo caminho vimos e visitámos detalhadamente uma interessante exposição de rua, na avenida Sejong Daero, sobre a Guerra da Coreia. No palácio assistimos ao render da guarda, um evento claramente dirigido aos turistas (que podem participar alugando, no local, roupas para o efeito), mas, ainda assim, coreograficamente bem realizado.

Na volta passámos por Cheongyeggeon e apanhámos o metro no City Hall até à estação de Hapjeong, a mais perto do mercado Mangwon que queríamos visitar. Aqui provámos várias comidinhas típicas, acabando por entrar num dos poucos restaurantes que se situam dentro do mercado, onde comem os feirantes e moradores locais, e aí almoçando. Optámos pelo mercado Mangwon em detrimento do mais turístico Gyeongdong, pois queríamos misturar-nos com os seulitas e comer com, e como, eles. Depois do almoço regressámos a pé até à estação de metro de Hapjeong, na linha 2, com intenção de visitarmos a livraria Starfield. Vale a pena realçar a peculiaridade da linha 2 (verde) do metro de Seul: é uma linha circular que funciona nos dois sentidos, confina em vários pontos com as outras oito linhas, e passa ou dá acesso aos principais pontos turísticos e locais de interesse da cidade. A livraria Starfield, por exemplo, fica num centro comercial onde se situa a estação de Samseong, precisamente da linha 2. Nós usámos e abusámos da linha 2. Tendo o cartão T-Money sempre carregado, torna-se extremamente fácil circular em Seul, uma cidade imensa em que a utilização do transporte público se revela necessária.
A livraria Starfield é grande, alta, imponente e fotogénica. É já um símbolo de Seul, e também um ponto de encontro entre residentes e turistas; veem-se por todo o interior pessoas fotografando e filmando com os telemóveis em punho. Perto dali, duas estações de metro depois, é possível visitar o Lotte World Tower, uma altíssima torre que observámos só por fora, preferindo circular por um parque adjacente, em torno do lago Seokchon. Muito bonito. De novo entrámos no metro desta feita para visitarmos a Torre de Seul, situada no topo do monte Namsan. Havia longas filas para apanhar o teleférico, pelo que fomos a pé, subindo largas centenas de degraus. (Quem quiser saber como pode chegar à Seoul Tower pode fazê-lo aqui.) A vista desde o topo da torre é de facto impressionante, mas na altura em que ali estivemos estava um pouco prejudicada pela sujeira das vidraças e também (sobretudo para quem gosta de fotografia) pelas luzes do interior do edifício, que se refletem nos vidros, e esta situação impediu-nos de conseguir as fotos que idealizáramos.

Quando descemos o Namsan, chegados ao sopé, o movimento era do tipo formigueiro, com pessoas circulando em todas as direções. Fez-nos lembrar bastante o que observámos em alguns pontos de Tóquio e de Hong Kong. Depois disto, apenas tivemos tempo de comer qualquer coisa (já estávamos com pressa), tomar um duche no apartamento, fazer as malas e apanhar o AREX rumo ao aeroporto. Ficámos com pena de não termos mais um dia ou dois para passarmos em Seul.
******************************
Palawan, Filipinas
Chegámos a Puerto Princesa, na ilha de Palawan, por volta das 2 pm, depois de uma noite passada em aeroportos — Incheon e Ninoy Aquino. Um motorista esperava-nos para nos conduzir à Casa Belina, um pequeno hostel agradável e limpo, com um jovem funcionário muito simpático. Aproveitámos para dormir bastante, apenas saindo do quarto para comer qualquer coisa, e sem chegarmos a sair do hotel. Descanso, depois de mais uma noite perdida, foi a palavra de ordem. Este hostel foi perfeito para isso.
No dia seguinte, o sexto após a saída de Portugal, logo depois de um bom pequeno almoço na Casa Belina, chegou o pessoal do rent a car com o “nosso” carro, e pouco tempo depois já estávamos na estrada a caminho de El Nido, uma viagem que durou cerca de seis horas. A maioria das pessoas desloca-se até El Nido, a zona mais badalada, no norte da ilha. Dado que esta tem uma extensão considerável (mais de 500 kms), os turistas escolhem uma zona para passarem as férias, aí permanecendo durante todo o período — e essa zona é normalmente El Nido. Até porque Palawan não é apenas uma ilha, são muitas ilhas em torno da ilha principal que dá o nome a este deslumbrante arquipélago. É, assim, aliás, nas Filipinas como um todo. Milhares de ilhas deslumbrantes.
De modo que, uma vez em El Nido, o visitante tem mil e uma maneiras de fruir das praias da região. Claro que há inúmeros passeios de barco que se podem fazer às várias pequenas (e não assim tão pequenas) ilhas que pululam ao longo da costa — passeios exclusivos e passeios coletivos, destacando-se entre estes os já célebres tours “A”, “B”, “C”, e “D”, cada um deles com a duração de 7 a 8 horas, ou seja, praticamente um dia inteiro, com almoço incluído. O custo de cada passeio varia entre os 1100 e os 1400 pesos filipinos, ou seja, em torno de 25€/30€, por pessoa.
Mas antes de chegarmos a El Nido, que nem era o nosso destino final, embora tivéssemos de passar por lá, parámos num pequeno restaurante na estrada para almoçarmos. Um restaurante para os habitantes locais, não para turistas. Desde logo ficámos com boa impressão da comida filipina.

Umas duas horas depois do almoço chegámos a El Nido que, como dissemos, não era o nosso destino. Por isso não parámos e seguimos para Nacpan, 15 quilómetros para norte, onde se situa a Amarav Pension, nosso alojamento durante 5 dias. Com estacionamento para o nosso carro alugado, esta pensão está muitíssimo bem localizada, a apenas 5 minutos a pé da praia de Nacpan, uma das mais bonitas da região. As funcionárias bem como a gerente foram extremamente simpáticas e prestáveis durante toda a nossa estadia. O quarto onde ficámos não era o suprassumo do conforto, mas tinha ar condicionado (embora de vez em quando a energia faltasse), era espaçoso e dava diretamente para um varandim onde podíamos sentar-nos e fruir do ar mais fresco da noite, depois de jantarmos no nosso restaurante favorito. Referimo-nos ao Combine, um pequeno bar-restaurante familiar, em plena praia de Nacpan. Ali as comidas são muito bem confecionadas: grelhados (peixe fresco, porco, frango, polvo), caranguejos e camarões confecionados de várias formas, sopas deliciosas (de porco, camarão, peixe, cogumelos e galinha) para além de diversos pratos de fritos. Também servem pequenos almoços, embora não os tivéssemos provado. Mas durante a nossa estadia jantámos sempre no Combine.
No dia seguinte ao da nossa chegada a Nacpan, fomos até El Nido para fazermos o passeio “C”, que havíamos reservado através da mesma empresa que nos alugou o carro. Queríamos fazer um desses tours para vermos se é tão interessante como se diz na internet. E valerá a pena fazer mais do que um dos quatro tours marítimos mais famosos desde El Nido? Depende. Se não se for rico e não se gostar de “excursões”, aconselhamos a fazer-se apenas um circuito como experiência. Ou pode até não se fazer nenhum e optar-se por praias igualmente paradisíacas quase vazias (ou mesmo vazias) e exclusivas. Isto consegue-se alugando um kayak, o que nós fizemos dias depois de termos integrado um dos tours “C”.

O tour “C” e o tour “A” são considerados os melhores dos quatro, mas como queríamos em princípio fazer só um, optámos pelo”C”, que nos pareceu (pela pesquisa na internet) melhor. Este tour passa por Helicopter Island, Matinloc Shrine, Secret Beach, Talisay Beach e Hidden Beach. São todos locais maravilhosos, com águas cristalinas e mornas, paisagens deslumbrantes, mas tem sempre o inconveniente de parecer (e sê-lo efetivamente) uma excursão, com muitas pessoas, não apenas da nossa embarcação, mas de muitas outras das inúmeras empresas que realizam os mesmos passeios todos os dias. É por isso que, para nós, um tour é mais do que suficiente.
Regressados a El Nido fomos dar uma volta pela cidade. Há uma pastelaria — El Nido Bakery — bem no centro, que vende bolos e pastéis doces de qualidade a peços incrivelmente baixos. Estamos a falar de preços que equivalem, na nossa moeda, a 10, 15 cêntimos. De tal forma, que fomos várias vezes tomar o pequeno almoço a esta pastelaria situada na rua Rizal.
Nos restantes dias em Palawan não fizemos mais excursões. Num deles fomos explorar a costa imediatamente a sul de El Nido, onde topámos com magníficas praias, entre elas Vanilla Beach, realmente bonita. Por perto há a praia de Corong Corong, onde, em outro desses dias, alugámos um kayak e partimos à descoberta de outras praias belíssimas. De Corong Corong fomos até a praia de Lapus Lapus, desta seguimos até Papaya e, por sua vez, desta seguimos até Seven Commandos Beach, uma praia que faz parte do tour “A”, mas que estava pouco movimentada graças a termos lá chegado fora das horas em que as embarcações do tour “A” ali chegam. Eu e Fla nunca tínhamos andado de kayak, pelo que esta experiência foi ainda mais incrível. Pelo caminho vimos imensos peixes voadores e um deles chocou a alta velocidade com a Fla.

Em Lapus Lapus estivemos sozinhos na praia. Banhámo-nos, descansámos, secámos um pouco os corpos ao sol e recuperámos energia para nova etapa. Em Seven Commandos banhámo-nos de novo, enquanto o nosso kayak descansava na areia. A água é de uma transparência incrível. Esta é mais uma praia magnífica, desse conjunto constituído por milhares de praias magníficas que são as ilhas filipinas.
Aconselhamos vivamente um passeio de kayak na região de El Nido. Há pessoas em várias praias que alugam kayaks a preços módicos. Este passeio entre Corong Corong e Seven Commandos é um dos mais recomendados. Outro, bem interessante, é o que sai da praia de El Nido rumo à ilha em frente, Cadlao. Logo à “entrada” da ilha encontra-se a Paradise Beach — e o nome diz tudo. Embora os passeios de kayak não sejam à partida perigosos, há que ter em atenção o tempo, sobretudo o vento forte que, se soprar contra, pode dificultar muito a deslocação para o destino desejado.
Em outro dos dias em Palawan decidimos dar uma volta de carro pelo extremo norte da ilha. Passámos por locais remotos, vimos pequenas aldeias, falámos com habitantes locais e apreciámos as vistas magníficas sobre o mar e a linha de costa, desde alguns pontos montanhosos, miradouros naturais com que topámos durante o percurso. A ilha no topo norte é muito estreita, pelo que se passa da costa oeste à costa leste em poucos minutos.

Noutra ocasião fizemos um passeio mais curto com intenção de conhecer as praias mais próximas a norte de Nacpan. Tivemos de circular com muito cuidado por estradas secundárias, pois o nosso carro era baixo e nada adaptado a terrenos acidentados. Mas, devagar, lá fomos e, no final, valeu a pena. Estivemos na Duli Beach, uma praia extensa, magnífica, quase deserta. Fomos de manhã e, no regresso, parámos num pequeno restaurante de comida local, que vende sobretudo para fora, bem baratinho, mas bom, o Llancel Food House, na pequena povoação de Bucana. Comprovámo-lo quando começámos a comer e, não fora termos encontrado este lugar apenas na véspera da nossa partida, teríamos ido lá comer mais vezes. Os donos quiseram, e conseguiram, surpreender-nos com uma sobremessa deliciosa: halo-halo shai, um batido de frutas gelado. Este restaurante, todo em madeira, tem a particularidade de ter sido construído em torno de uma árvore e é gerido por uma pequena família, um casal com uma filha adolescente.
Convém dizer que é perfeitamente possível passar uma temporada em Palawan comendo nos restaurantes aonde vão os habitantes locais. A comida é em geral boa e nós fomos a vários restaurantes não-turísticos e com essa opção não só comemos bem como poupámos muito dinheiro e ficámos a conhecer uma boa parte da gastronomia da ilha. É preciso estar atento, observar, cheirar, ter os sentidos despertos para se escolher os melhores locais para comer. Também ajuda ser-se simpático, falar com as pessoas, mostrar-se interessado, elogiar se a oportunidade surgir. Por vezes uma atitude positiva faz a diferença entre ser-se bem ou mal atendido.

Foi pois com alguma nostalgia que partimos de Nacpan, cinco dias após a nossa chegada. É um local magnífico, longe da confusão de El Nido, mas suficientemente perto para, se quisermos, irmos lá rapidamente de moto ou de carro — são apenas 15 quilómetros. As praias de Nacpan e Twin Beach são alcançáveis facilmente a pé desde a Amarav Pension, onde ficámos hospedados; o alojamento naquela zona é mais em conta; a comida é boa; e todos os dias o pôr do sol enche a praia de Nacpan daqueles relaxantes tons rosados e alaranjados, enquanto podemos desfrutar de um banho morninho…
Quando chegámos de novo a Puerto Princesa, depois de mais um almoço na estrada e de termos entregado o carro, estávamos no nosso décimo dia de viagem. Estava um calor insuportável. Era o dia 25 de abril, para nós, o Dia da Liberdade.

******************************
Bali, Indonésia
Chegámos a Bali no dia 26 de abril, de manhã, para ficarmos seis dias e meio. À nossa espera estava o motorista de um táxi que previamente reserváramos através do Booking. Chegámos ao Bali Bobo Hostel, no bairro de Jimbaran, ainda antes do horário do check-in. Foi quando conhecemos o grande (não tanto em estatura, mas de coração) Agust Raphael. Agust é o rececionista principal do Bali Bobo (propriedade de um alemão) e um ser humano extraordinário. Dado que quando chegámos o nosso quarto ainda estava ocupado, ficámos um pouco à conversa com ele. A viagem do aeroporto para o hostel havia sido caótica, o trânsito estava infernal, o calor também, e as nossas primeiras impressões de Bali não foram as melhores. (É preciso dizer que tínhamos vindo das Filipinas, logo, com expectativas altas). Por isso estranhámos um pouco, embora depois nos tivéssemos lembrado várias vezes, como agora, quando Agust nos disse que “não somos nós que escolhemos Bali, é Bali que nos escolhe”.

De facto, fomos gostando de Bali um pouco mais a cada dia, e isso foi ao encontro da frase de Agust. Após a pequena conversa com ele, deixámos as malas, fomos almoçar e quando finalmente regressámos e entrámos no quarto para tomarmos um banho e descansarmos um pouco, ficámos encantados. Que belíssimo quarto! Enorme, fresco, limpo, bem equipado, com ar condicionado ligado e com uma espaçosa cama com dossel, ali estava um convite implícito para o relax total. É impossível não ser feliz num quarto daqueles. Apesar disso, nós que não conseguimos estar quietos, ainda saímos… desta vez de scooter. De facto, a melhor maneira de circular em Bali é de moto. O carro pode revelar-se um pesadelo, sobretudo para quem não está habituado ao trânsito caótico. Felizmente, o aluguer de motos é comum em Bali, e no Bali Bobo havia várias para alugar.
E lá fomos nós, palpando terreno, tentando ambientar-nos àquelas condições de trânsito, o que não foi fácil. Nesse dia fomos até uma praia de surfistas, a Uluwatu Beach, sempre com um tráfico compacto, tentando, aos poucos, passar entre os carros, imitando os locais, ou tentando, não conseguindo evitar alguns sustos. Logo nesse dia aprendemos uma lição importante: não conduzir de chinelos! Com a primeira lição assimilada, aventurámo-nos, no dia seguinte, a fazer um trajeto maior. Nada mais nada menos que uma viagem até Ubud, ou seja, mais de 100 kms no total, ida e volta.
Em primeiro lugar visitámos um campo de arroz em Tegalalang — Ceking Rice Terrace — e depois fomos à Floresta dos Macacos (Monkey Forest). Muita vegetação em ambos os locais e também muito calor. Na Floresta dos Macacos tem de se ter cuidado com os ditos cujos que tentam roubar a nossa comida. Não nos pareceu nada de extraordinário, além do grande número de espécimes vegetais, mas valeu pelo passeio. À noite, já em Jimbaran, fomos jantar ao Gacoan, um restaurante de massas com comida muito picante. O nível de picante vai de 1 a 10 e nós pedimos o nível 1. No entanto, estava bastante picante. No dia seguinte pedimos nível zero, ou seja, sem picante, mas veio picante na mesma.
Mais tarde, na Índia, a coisa haveria de ser pior. (É incrível como os asiáticos gostam de malagueta!).
Os próximos dias aproveitámo-los para curtir as praias. Tínhamos ficado com a ideia, primeiro ainda no avião e depois pela primeira praia que visitámos, de que as praias de Bali não eram muito boas. E, de facto, se as compararmos com as praias filipinas, estas são em geral muito melhores. Mas há boas praias em Bali, algumas mesmo excelentes. Uma das melhores é a Thomas Beach, uma praia realmente bela, de acesso um pouco difícil, pois fica sob uma escarpa relativamente alta, tendo de se descer (e, na volta, subir) muitos degraus. Mas vale muito a pena visitá-la. Quando lá estivemos, de manhã cedo, havia poucas pessoas na praia.

Além desta, visitámos mais duas praias que, pela pesquisa que fizemos, nos pareceram as melhores nesta zona de Bali. E de facto não desiludiram. A primeira foi a Melasti Beach e a segunda a Pandawa Beach, ambas no extremo sul da ilha. A Melasti Beach é a mais bonita das duas. Convém dizer que a Fla se encarrega sempre de baixar o google maps durante as nossas viagens, pelo que podemos deslocar-nos pelos próprios meios sem complicações de maior. Em Bali eu conduzia a moto e a Fla, com o telemóvel na mão, atrás de mim, dava as indicações sobre o caminho a seguir.
Durante a nossa estadia no Bali Bobo aconselhámo-nos várias vezes com Agust sobre locais interessantes a visitar e sobre restaurantes com boa relação qualidade-preço para comer. Foi através de uma dica de Agust que fomos na nossa motoca até o mercado de peixe de Kedonganan. Aí, após uma volta pelo interior do mercado, onde apreciámos uma variedade imensa de peixes e mariscos, escolhemos um peixinho, ou melhor, um “peixão”, que de seguida transportámos até um restaurante situado mesmo no largo anexo ao mercado, em frente ao mar. Neste restaurante, Warung Bu Wiwin, frequentado por habitantes locais, é possível mandar grelhar o peixe por um preço irrisório. As bebidas e os acompanhamentos são pagos à parte.
Comida de qualidade a preços módicos é algo que só se consegue quando interagimos com as pessoas. Esta dica deve seguir na bagagem de qualquer viajante que se preze.

Neste dia, depois do almoço, seguimos mais uma sugestão de Agust e fomos visitar o templo Pura Luhur Uluwatu, situado no topo de uma falésia e onde se realiza um espetáculo de dança tradicional. Quem quiser assistir terá de chegar pelo menos uma hora antes do espetáculo, que se realiza às seis da tarde, por forma a garantir o bilhete, uma vez que a lotação se esgota todos os dias. Foi o que fizemos, chegámos cedo. O local é muito bonito e o facto do Kecak Ramayana, assim se chama o espetáculo, constituído por cinco atos, se realizar ao pôr-do-sol, torna tudo ainda mais belo. Trata-se de uma lenda contada através da dança que culmina numa batalha final onde o exército de macacos derrota o exército de gigantes e Rama, o herói, derrota Rhawana, salvando a sua esposa Sita.
No dia seguinte decidimos ir mais longe e visitar a ilha de Nusa Penida. Foi difícil encontrar o cais de onde partem os navios para esta ilha porque pensávamos que estes partiam todos do mesmo local, mas não. As embarcações para Nusa Penida saem de um cais exclusivo. Como tínhamos acordado bem cedo, descobrimos a tempo que o cais de embarque é o de Sanur, um dos vários que existem na ilha de Bali onde acostam os ferrys que vão para as outras ilhas. Deixámos a scooter no parque de estacionamento e quando chegámos a Nusa Penida alugámos outra scooter numa loja junto ao cais. O nosso objetivo era irmos a kelingking beach e, munidos do google maps, lá fomos nós. Subidas, descidas, estradas estreitas e esburacadas, uma scooter diferente, mais pesada — tudo isto constituiu mais um desafio.
Kelingking é sem qualquer dúvida um lugar cénico. E perigoso. Já conteceram aqui muitos acidentes. Uma placa no local avisa que não há vigilância e que, portanto, os turistas estão por sua conta e risco. Os perigos são vários. As altíssimas escarpas sobre o mar não têm, em muitas zonas, proteção (vimos pessoas a tirarem fotos à beira do precipício); a descida para a praia é perigosa e demora bastante mais de uma hora para superar a curta distância que separa o topo da colina da praia, quer para subir quer para descer, e o sol não ajuda; a praia lá em baixo tem correntes perigosas, cruzadas, e o mar é forte.

Como é que nós sabemos isto? Porque tomámos a decisão um tanto arriscada de descer até à praia. E subir, claro. É preciso estar em boa forma para fazer isso e o nosso conselho é o de que, se alguém ainda assim decidir descer, por favor não se aventure a nadar naquele mar. Claro que há sempre quem se aventure e provavelmente ver-se-ão pessoas na água. A maioria tem sorte, felizmente, mas o número de mortes que já ocorreram naquela praia é assustador. Basta ter alguma familiaridade com o mar, e observá-lo, para perceber como ele ali é perigoso. As correntes cruzadas são imprevisíveis e vimos várias pessoas (todas jovens) em dificuldades para sairem da água.
A subida desde a praia, nas horas de calor, é extenuante. Tive de descansar várias vezes pelo caminho. É imprescindível levar água para beber, e nós não levámos, o que foi um erro. Em suma, é preciso uma certa dose de loucura para ir àquela praia.
Mais de três horas depois de iniciarmos a descida, regressámos ao topo. Foi um alívio. Por um lado estávamos felizes por termos superado o desafio, mas por outro sentimo-nos desconfortáveis por termos corrido um risco, que embora calculado, tinha para todos os efeitos sido desnecessário. Mal chegámos ao topo da colina, procurámos um lugar à sombra na esplanada de um café e pedimos uma água de coco — uma benção. Pouco depois, estávamos a almoçar. Aos poucos recuperámos as forças e a energia. Estávamos prontos para mais uma etapa em Nusa Penida.

Rumámos a Crystal Bay, uma bela praia de águas mornas, bastante frequentada. Relaxámos, banhámo-nos e voltámos satisfeitos para o cais de embarque. Nusa Penida é sem dúvida uma ilha inesquecível. Linda, desafiante e perigosa. Após a travessia de cerca de uma hora, chegámos a Bali ao anoitecer. A nossa velhinha scooter esperava-nos no parque de estacionamento, e pouco depois voava para o Bali Bobo Hostel.
Contámos o sucedido a Agust que nos disse que ele próprio nunca tinha descido até a praia de Kelingking. Ficou surpreendido por o termos feito. Fomos tomar um duche relaxante e depois fomos jantar de novo ao Gacoan, pois este fica relativamente perto do Bali Bobo. Normalmente íamos a pé e cruzávamos um pequeno bairro onde as pessoas, que nos viam passar várias vezes, nos cumprimentavam.
No dia seguinte optámos por descansar e evitar correrias. Estivemos bastante tempo no hostel depois do pequeno almoço. E quando chegou a fome fomos almoçar ao Menega Cafe, na praia de Jimbaran, apenas a 4 quilómetros de distância. Peixe grelhado, lagosta, camarão, bivalves — não estava mau, mas o nosso marisco é melhor e a forma como o tratamos também. Depois do almoço, a Fla quis provar uma durian pancake num café chamado Durian Tanpa Ribet; realizámos esse desejo.
Era o dia de deixarmos o Bali Bobo, mas não ainda Bali. Optáramos por ficar a última noite num hotel bem perto do aeroporto para facilitar a nossa partida. Despedimo-nos de Agust, esse simpático e querido indonésio que o destino colocou no nosso caminho, e apanhámos um táxi até o Tirtasuci House, em Kuta, onde dormiríamos a nossa última noite em Bali.

O Tirtasuci fica na zona mais movimentada e turística de Bali, bem perto do aeroporto. Passámos a tarde na praia, a Jerman Beach, tomando banho, observando os enormes e coloridos papagaios (pipas) que os miúdos lançavam no ar, passeando até depois do sol se pôr, relaxando e descansando, já em contagem decrescente para a partida de Bali e mais uma longa viagem até o próximo destino.
No dia seguinte, de manhã, fomos tranquilamente a pé até o aeroporto. Tínhamos pela frente uma viagem dupla rumo ao Nepal, com escala em Kuala Lumpur. Para trás, mas não esquecida, ficava Bali, a ilha dos deuses.
******************************
Kathmandu, Nepal
Chegámos à capital do Nepal à noite, por volta das 21 horas. À nossa espera estava um taxista contratado pelo hotel onde iríamos ficar; o transfer estava incluído na nossa reserva. Durante o trajeto deu para perceber que estávamos numa cidade aonde a modernidade não tinha chegado ainda, uma cidade diferente de todas as que já tínhamos conhecido. O núcleo central de Kathmandu é uma zona demarcada, conhecida como Thamel, a parte mais comercial e turística da cidade. O Magnificent Hotel, onde ficámos, está localizado dentro dessa zona.

O budismo é a religião prevalecente no Nepal. Trata-se de uma religião tolerante e isso faz-se sentir no quotidiano das pessoas. No segundo dia em Kathmandu fomos visitar o templo Buddha Stupa, a 7 kms do nosso hotel, trajeto que fizemos a pé, como é nosso timbre, para irmos palpando o terreno e o pulsar da cidade.
Na volta apanhámos um táxi até Thamel para visitarmos o centro da cidade. Depois seguimos a pé até o templo de Swayambhunath, do outro lado (oeste) da cidade. Trata-se de um templo onde os macacos abundam, convivendo com as pessoas e tentando sempre tirar alguma vantagem; é preciso saber lidar com eles e não lhes dar muita confiança. Regressámos, descendo a longa escadaria que já tínhamos subido (o templo fica no topo de uma colina), a Thamel e ao hotel. Depois de um duche revigorante e uns momentos de descanso, fomos jantar a um restaurante típico nepalês de que gostámos muito. A comida era excelente, com várias opções vegetarianas, e a decoração é muito bonita. O restaurante fica num primeiro andar, e tem duas salinhas pequenas com janelas grandes através das quais chegam os sons do bulício e as luzes dos néons, próprios do centro da cidade.

No terceiro dia no Nepal partimos de Kathmandu num voo curto até Nova Deli. Ficámos surpreendidos pelo tamanho do avião, um 747, e pela refeição servida num voo de hora e meia. Parabéns à Royal Nepal Airlines.
******************************
Nova Deli, Jaipur e Agra, Índia
Tínhamos uma expectativa muito alta em relação à Índia. Planeámos visitar as três cidades constituintes do badalado triângulo dourado, de modo que pormenorizámos muito bem a nossa estadia. Mas nada podia falhar, porque estava tudo muito apertado. O nosso plano era chegar a Nova Deli, apanhar o metro para o centro da cidade, tomar um duche rápido no hotel, e voltar para o aeroporto para apanhar o avião até Jaipur. Dado que os hotéis na Índia são relativamente baratos, pensáramos em reservar um hotel em Nova Deli por forma a termos um lugar onde deixar as malas maiores e partirmos só com uma pequena bagagem para Jaipur e Agra antes de regressarmos a Nova Deli. Decidimos ir para Jaipur de avião, uma vez que os preços baratos compensam, depois seguirmos para Agra de comboio, e não tínhamos ainda decidido como voltar de Agra para Nova Deli. O plano pareceu-nos bom, mas o voo que apanhámos em Kathmandu atrasou e pensámos que provavelmente não conseguiríamos apanhar o voo para Jaipur. Começámos a pensar num plano B…
Foi uma correria. Quando deixámos as malas no hotel em Nova Deli e voltámos a correr para o aeroporto, pensámos que perderíamos o voo para Jaipur. Mas tentar não custa, e o muito suor que gastámos foi compensado: o voo para Jaipur também estava bastante atrasado, e lá apanhámos o avião. Quando chegámos, o motorista do nosso “táxi” (um tuk tuk) estava há mais de três horas à nossa espera para nos levar ao Gypsy Monkey, o hostel que havíamos previamente reservado. Comemos qualquer coisa no hostel, tomámos um duche e fomos dormir.

Entretanto o motorista do tuk tuk fizera uma proposta para nos levar no dia seguinte aos locais mais emblemáticos, e nós aceitámos. Assim, bem cedo na manhã seguinte saímos à descoberta de Jaipur. Nesta cidade não há hipótese de percorrer longas distâncias a pé a não ser quando o sol se esconde porque o calor é infernal, pelo que foi uma decisão sensata termos aceitado a proposta do condutor do tuk tuk.
Fomos em primeiro lugar ao Hawa Majal e de seguida ao Palácio da Cidade, onde vive o jovem rei do Estado de Jaipur, Padmanabh Singh. As entradas pagas já incluem guia e as visitas são demoradas, cerca de duas horas. O nosso guia era excelente, falando um inglês correto. Explicou-nos a história da família real, ocidentalizada e culta, e através dela a história de Jaipur. É, sem dúvida, a melhor, e a indispensável, visita que se pode fazer na cidade.
Depois fomos almoçar. A comida é um problema na Índia. Dificilmente se consegue comida sem picante, seja onde for. A seguir ao almoço num restaurante sofrível, visitámos os outros locais previstos: Forte Amber, Stepwell e Jal Mahal.
No dia seguinte, cedo, apanhámos o comboio para Agra. Fomos na terceira classe, pois quisemos ver como é. Tem ar condicionado — forte de mais — e o mais curioso é que uns lugares são sentados, outros deitados. Eu fui num dos primeiros, a Fla num dos segundos, por cima de mim.
Chegados a Agra, pouco depois do meio-dia, apanhámos um tuk tuk para o nosso alojamento, estrategicamente situado junto à entrada leste para o Taj Mahal. Foi a melhor surpresa na Índia. Uma belíssima casa transformada em alojamento local. A decoração é de muito bom gosto e o quarto é realmente mimoso. Os jardins dão um toque de frescura, o que é sempre bem vindo num país demasiado quente. Mas o problema continuou a ser a comida. Na Índia há muita comida vegetariana, mas mesmo esta é picante. Foi o que aconteceu ao jantar: mais uma dose descomunal de picante. Enfim, tentámos animar-nos com a perspetiva da visita ao Taj Mahal.

De manhã bem cedo, no dia seguinte, antes ainda do nascer do sol, lá fomos nós. Fomos dos primeiros a entrar. O Taj Mahal é realmente imponente mas, talvez pela nossa alta expectativa, desiludiu um pouco. Arquitetonicamente não é muito elaborado, o interior é pobre e falta qualquer coisa no entorno, talvez mais verde e mais água. Ainda assim, dado o simbolismo do local, talvez, não se consegue ficar indiferente quando o vemos pela primeira vez. Seja como for, e dado que era um objetivo de longa data, sobretudo para a Fla,”está feito”.
Regressámos ainda nesse dia a Nova Deli, de táxi. É tão barato (descobrimos isso já em Agra) que não se justifica outro meio de transporte. Descansámos um pouco no hotel, que se situa bem perto da Estação Central Ferroviária de Nova Deli, antes de sairmos para uma volta a pé pela zona mais movimentada da cidade. A confusão é grande: os pequenos negócios de rua, as lojas minúsculas, os tuk tuk, os milhares de transeuntes, os odores intensos. Ao passarmos numa rua sentimos um cheiro fortíssimo a urina: olhámos para o lado e vimos vários indivíduos, lado a lado, urinando para o chão, que era um lago.
A Índia é seguramente um país espetacular com uma história fabulosa e uma cultura grandiosa, mas aquilo que vimos e sentimos não foi nada disso. Como não somos hipócritas, temos de dizer que não gostámos daquela cultura tão influenciada pela religião. Embora não pareça haver intolerância religiosa, pois a diversidade de culto é visível nas ruas, as pessoas são extremamente preconceituosas. Se a Fla vestisse uns calções ou um vestido curto, era certo e sabido que os olhares sobre ela se tornavam tão frequentes e intensos que eram impossíveis de ignorar. As mulheres olhavam com reprovação e indignação, os homens com espanto (para não lhe chamar outra coisa).

As pobreza e sujidade na Índia fazem doer o coração. Vimos de facto muita pobreza, incluindo crianças a catarem lixo à procura de comida, mas também muita sujeira. Vimos pessoas a deitarem todo o tipo de coisas para o chão, inclusive nos aviões, sem qualquer necessidade. As ruas são incrivelmente sujas e mal cheirosas. Sinceramente, foi com certo alívio que deixámos a Índia. No dia 8 de maio, ao início da noite, partimos rumo a Baku, Azerbeijão.
******************************
Baku, Azerbeijão
Era suposto estar um motorista à nossa espera no aeroporto de Baku, mas ninguém compareceu. É sempre um prejuízo (não apenas monetário) quando algo no planeamento falha. Tivemos de apanhar um táxi e o Booking não nos devolveu o valor que pagámos por esta corrida, mas o que tínhamos pago previamente ainda em Lisboa, pelo que ficámos duplamente prejudicados (monetariamente e pelo atraso de duas horas com que chegamos ao “nosso” alojamento). Não é justo, mas não há muito mais a fazer para além de denunciar estas situações.

Pelo caminho entre o aeroporto e o hostel já dava para perceber que Baku é uma cidade moderna; iríamos confirmar isso nos dias seguintes. Ficámos no Cth Baku Hostel, bem localizado no centro da cidade. Pela primeira vez ficámos num hostel com casa de banho partilhada, mas isso não constituiu problema. E este hostel tem algo que compensa tudo: um soberbo e variado pequeno-almoço. Depois desta refeição ficávamos com energia para várias horas. E nós usámos bastante energia ao palmilharmos dezenas e dezenas de quilómetros na surpreendente Baku — uma cidade limpa, organizada, moderna, bela, com alguns edifícios icónicos.
Entre eles, há dois que nenhum turista em Baku pode deixar de visitar.
Referimo-nos às Flame Towers e ao Centro Cultural Heydar Aliyev. As primeiras, localizadas numa colina sobre a baía de Baku, veem-se de quase todo o lado e foram, por isso, concebidas para se olharem à distância. Já o Centro Heydar Aliyev — desenhado pelo arquiteto iraquiano-britânico Zaha Hadid — é para se ver de perto, quer o exterior, quer o interior. Foi o que fizemos. Passámos uma tarde inteira, até o fecho de portas, apreciando esta magnífico edifício e as várias exposições patentes no seu seio.

Além do edifício propriamente dito, a envolvente é também muito interessante, pois inclui o Centro de Convenções de Baku e largos relvados onde as pessoas se reunem para fazer piqueniques, praticar desporto, descansar e conviver, em suma, um espaço simultaneamente grandioso e harmonioso, uma síntese, na verdade, de toda Baku.
Mas além da componente arquitetónica, há que realçar a vertente urbanística. As ruas são bem desenhadas, perfeitamente adaptadas para a circulação a pé, com um pormenor bastante curioso: os peões (pedrestes, para os amigos brasileiros) cruzam as grandes avenidas sempre por debaixo do chão, em segurança. O número de túneis, onde por vezes se encontra algum tipo de comércio ou um ou outro artista de rua, é impressionante. E há algo mais que também impressiona: o luxo patente em lojas, hotéis, edifícios e automóveis. É preciso não esquecer que o Azerbaijão tem petróleo e gás natural.
Apesar da riqueza e da boa organização evidentes em Baku, o mesmo não se passa seguramente no resto do país. Embora abundante em combustíveis fósseis, o PIB per capita do Azerbaijão é equivalente ao do Brasil e bastante inferior ao português. Além disso, o país é governado desde 1993 pela mesma família, os Aliyev, que se mantêm no poder através de um sistema pseudo-democrático, a que alguns chamam de Partido Dominante; isso significa que há partidos na oposição, mas nunca chegam ao poder. Por outras palavras, as eleições são fraudulentas. Além disso, o atual presidente, Ilham Aliyev, filho de Heydar Aliyev (um antigo oficial de elevada patente do KGB), pode manter-se indefinidamente no cargo graças a uma alteração à Constituição, aprovada pela Assembleia Nacional após um controverso referendo, realizado em março de 2009.

Há duas personalidades nascidas no Azerbaijão que merecem o nosso destaque. Uma delas é Garry Kasparov, que apesar de ter nascido em Baku, viveu grande parte da sua vida na União Soviética e na Rússia, primeiro como membro do Partido Comunista, depois como opositor ao regime de terror implantado por Putin. Hoje vive no estrangeiro, exilado, tendo escrito um excelente livro — O Inimigo que Vem do Frio — onde previne o Ocidente livre sobre a necessidade de travar Putin a tempo, algo que nunca foi feito, permitindo que a ameaça russa crescesse da Geórgia para a Crimeia e depois para a Ucrânia. Kasparov mostra grande lucidez e compara o regime de Putin a uma verdadeira máfia. Além da atividade política desenvolvida, Garry Kasparov foi um exímio jogador de xadrez, um dos melhores de todos os tempos, e também por isso — nós que tanto apreciamos esse jogo — o admiramos.
A outra personalidade é Gubad Ibadoghlu, um economista que fundou o Movimento de Democracia e Prosperidade do Azerbaijão, em 2014, e que viu o seu registo como Partido da Democracia e Prosperidade, várias vezes rejeitado pelas autoridades. Na prática, a atividade política de Gubad — que denunciava a corrupção governamental e o desvio para benefício pessoal dos Aliyev das receitas do gás e do petróleo — foi ilegalizada. Perseguido, foi obrigado a sair do país. Em 2023 regressou com a mulher ao Azerbaijão para visitar a mãe doente, mas o carro em que seguiam foi albaroado e ambos foram agredidos e presos, tendo a mulher sido libertada depois. Doente, Gubad Ibadoghlu foi colocado em prisão domiciliária, mas é-lhe negado o tratamento necessário para a diabetes, pressão alta e problemas renais de que padece.
Apesar de ser um república democrática no papel, não existem eleições livres no Azerbaijão e o número de presos políticos tem vindo a crescer. A mulher do presidente do país é a atual vice-presidente.
Seja como for, e apesar da grande maioria da população azeri ser muçulmana (mais de 97%), Baku é uma cidade moderna, onde as pessoas andam à vontade e a larga maioria se veste dentro dos padrões ocidentais.

Na última noite em Baku fomos jantar a um restaurante tradicional da cidade, o Dolma, que também é o nome de uma iguaria tradicional ali confecionada: carne moída enrolada em folhas de videira. Além disso, comemos cabrito no forno com puré de batata, frango, salada — e tudo estava realmente delicioso.
No dia seguinte fomos de autocarro para o aeroporto e despedimo-nos de Baku. Ao contrário do que acontecera com a Índia — quando as expectativas eram elevadas e de certa forma foram frustradas — em relação ao Azerbeijão as expectativas não eram elevadas, mas foram superadas no que toca à vida na capital, embora não possamos dizer o mesmo relativamente à vida das pessoas em todo o país, privadas de liberdade por mais um ditador despótico. Porque há tantos no poder e porque há tanta gente a apoiá-los — eis a questão que nos inquieta, sempre.
******************************
Geórgia e Arménia
A nossa intenção inicial era visitar os três pequenos países entre o Mar Cáspio e o Mar Negro: Azerbaijão, Geórgia e Arménia, ficando alguns dias em cada um deles. A Geórgia teria de ser sempre o país do meio porque devido ao conflito entre a Arménia e o Azerbeijão (em Nagorno Karabakh) não é conveniente viajar (e muitas vezes nem há ligação) entre estes dois países. Mas depois descobrimos que há passeios de um dia à Arménia, desde a Geórgia, com guia. Assim, reservámos ainda em Portugal um desses tours, que incluía um almoço em casa de uma família local.
Apesar de haver autocarros do aeroporto para o centro de Tbilisi, optámos pelo táxi que nos deixou à porta do apartamento que tínhamos alugado para os nossos 6 dias na Geórgia, via Airbnb. Este apartamento está muito bem localizado e equipado, e foi uma excelente opção para a nossa estadia em Tbilisi. Assim pudemos fazer os pequenos almoços em casa e algumas outras refeições, poupando bastante dinheiro, pois a vida em Tbilisi, ao contrário do que se pensa geralmente, não é nada barata.

Já sabíamos que havia grandes manifestações na Geórgia que, na época em que chegámos, estavam no auge. Em causa estava uma lei — que haveria de ser aprovada no parlamento durante o período em que estivemos em Tbilisi—, que ficou conhecida como “lei russa”, pois visava limitar a liberdade de imprensa, à semelhança de uma lei de 2012 vigente desde então no regime putinista. O que constatámos na Geórgia foi uma enorme vontade das gerações mais novas de se livrarem da pressão russa. Para tal, os georgianos só veem uma possibilidade: a entrada do país na União Europeia e, eventualmente, na NATO. Ora, esta “lei dos agentes estrangeiros” é um entrave às ambições dos georgianos de aderirem à UE (viola as condições de adesão), e é por isso que a presidente do país, Salome Zourabichvilli, uma europeísta convicta, tão veementemente se lhe opõe. O veto da presidente, porém, não foi suficiente para travar a lei, face à maioria dos deputados do partido Sonho Georgiano, no poder.
Tínhamos conhecimento desta situação quando chegámos à Geórgia e estávamos ansiosos por nos juntarmos às manifestações, que eram constantes. Logo no dia da nossa chegada, dia 11 de maio, sábado, assistimos a uma manifestação gigantesca que se concentrou na Praça da Europa. As pessoas empunhavam ou colocavam pelas costas bandeiras da Geórgia e da União Europeia. Estivemos horas, ali, e no dia seguinte comprámos uma bandeira da União Europeia para participar nas manifestações. Chovia bastante naquela noite, mas ninguém arredou pé.

A nossa vida em Tbilisi foi, pois, passada nas manifestações. Claro que também deambulámos pela cidade, palminhámos o centro histórico, mas o nosso pensamento estava sempre nas manifestações que eram diárias e constantes. O nosso apartamento situava-se mesmo em frente ao parlamento, mas do outro lado do rio, numa colina. À noite ouvíamos perfeitamente os sons que vinham de lá, pois as manifestações nunca paravam, os georgianos faziam turnos para manterem os protestos durante o máximo de tempo possível.
Zezva, o guia que nos conduziu à Arménia, era também um dos manifestantes. Ele conduziu o carro sempre debaixo de chuva enquanto nos explicava — a nós e a um casal inglês, que éramos os seus clientes — a situação na Geórgia, o contexto histórico, a luta dos georgianos para se verem livres da influência russa. Recordo uma frase de Zezva que ficou gravada no meu cérebro: desde pequeno que ouço constantemente “não podemos irritar os russos, não podemos irritar os russos”, estou farto!
Ao ouvi-lo fiz interiormente uma pergunta que de vez enquanto me assalta. Como é possível termos nos nossos países livres gente que apoia ou tolera o regime de Putin? Não consigo compreender. Esses que ativa ou discretamente toleram Putin são os mesmos que deploram a União Europeia, o maior espaço de liberdade do mundo. E é a este espaço que os georgianos querem desesperadamente pertencer.

Visitámos alguns mosteiros na Arménia. Akhtala, e o complexo de Haghpat e Sanahin. No final estivemos em Sarahart, nas instalações de um teleférico, desativado há pouco tempo, que servia para transportar os trabalhadores das suas casas, cá em cima, para as minas de cobre, lá em baixo, ao lado da cidade mineira de Alaverdi. Esta região já foi georgiana, depois soviética e agora é arménia.
Junto ao mosteiro de Haghpat — uma obra-prima da arquitetura religiosa arménia, classificada como Património Mundial pela UNESCO, construído no século X —fica a casa onde almoçámos. Foi um almoço muito agradável e saboroso. Voltámos a provar o dolma, esse petisco tão difundido pela região do antigo império otomano, entre outras iguarias: um frango bem confecionado e uma salada que fez as delícias da Fla, queijos, pastéis e bom pão caseiro. Além disso pudemos conviver um pouco com uma família local e fruir de uma paisagem deslumbrante, pois esta casa situa-se ao lado do mosteiro, no topo de uma colina.

Regressámos a Tbilisi e fomos diretamente para a porta do Parlamento onde ocorria mais uma manifestação. Zezva juntou-se-nos pouco depois. Ele traduziu para inglês muito do que se dizia por lá em georgiano, quer nos discursos dos oradores, quer nas palavras de ordem dos manifestantes. Os estudantes universitários estavam todos mobilizados, bem como muitos professores, e as universidades estavam fechadas. Já era bem de noite quando fomos para o apartamento. Continuámos a ouvir os sons da música, dos slogans, das ovações até adormecermos. Ainda hoje nos é impossível manter-nos indiferentes a esta luta.
É justo dizer que de vez em quando a polícia carregava sobre os manifestantes. Várias pessoas foram presas. Tivemos sorte em nunca termos estado num desses momentos, mas o grande aparato policial, com carros, carrinhas, canhões de água e centenas de elementos, deixava bem claro que os agentes do estado poderiam intervir a qualquer momento. Apesar disso ninguém desmobilizava, e muitos estavam protegidos com máscaras contra o gás lacrimogéneo.

No dia seguinte, apesar de termos ido de novo ao Parlamento, fomos visitar a Galeria Nacional da Geórgia, que por acaso, fica muito perto, na mesma avenida. Vimos várias exposições, com destaque para as obras do mais conhecido artista plástico georgiano, Niko Pirosmani.
Fomos também à Academia de Arte de Tbilisi, na Avenida Rustaveli, mas, pelo caminho, à porta do Coliseu, tivemos uma agradável surpresa que comprova como o mundo é pequeno. Deparámos com o jornalista português, que muito admiramos, Henrique Monteiro. Conversámos um pouco e ficámos a saber que o Henrique tinha sido convidado para ir a Tbilisi dar uma palestra numa universidade. Aproveitando o ensejo, ele haveria de produzir uma belíssima reportagem, publicada no jornal Expresso do dia 24 de maio, sobre os acontecimentos que naquela altura ocorriam na cidade. Escreve Henrique nessa reportagem:
Olho pela última vez para jovens com bandeiras do seu país e da Europa, a lutar pela liberdade, e comparo-os, mentalmente, com os jovens dos EUA e da Europa a lutar pela Palestina, numa equação em que liberdade não entra, pelo contrário. Os primeiros têm esperança; os segundos apenas raiva. (aqui)
Foi um encontro feliz para nós, no qual pudemos constatar não sermos os únicos portugueses genuinamente sensibilizados com a determinação do povo georgiano na sua luta pela liberdade.

À noite fomos jantar a um restaurante tradicional georgiano, o Mafshalia. Estávamos no dia da partida e quase no final da nossa viagem. Aproveitámos para provar alguns pratos típicos (carne de porco com batatas assadas, um frango com um molho um tanto ou quanto esquisito para o nosso gosto, saladas e pastéis) e um vinho branco caseiro muito agradável. Os preços são em conta, as doses bem servidas e o restaurante é típico, com uma sala comum e pequenos compartimentos privativos. Vale a pena.
De seguida fomos ao apartamento tomar um duche e pegar as malas para seguirmos, de autocarro, para o aeroporto. Despedimo-nos de Tbilisi com o desejo de que o povo georgiano alcance a liberdade. Em outubro há eleições na Geórgia e a oposição quer que estas sejam monitorizadas por observadores independentes. Mas a “lei russa”, entretanto aprovada, é um obstáculo à vinda de observadores estrangeiros. Tal como refere Henrique Monteiro, se os Estados Unidos e a União Europeia não pressionarem Putin, a Geórgia estará perdida.
Os nossos corações permanecem com Zezva e com os dois terços de georgianos que almejam a liberdade.
******************************
Ankara, Turquia
O nosso regresso a Portugal fez-se via Turquia, e ficámos 14 horas em Ankara, aonde chegámos cerca das 5 e meia da manhã. Apanhámos um autocarro para o centro e fomos visitar alguns lugares da cidade. Pensávamos que o autocarro ia até o centro da cidade, e que aí seria a última paragem, mas a última paragem afinal era depois do centro, num terminal rodoviário fora da cidade. Tivemos, portanto, de comprar novo bilhete para apanharmos outro autocarro em sentido inverso para descermos no centro da cidade como pretendíamos. Lá chegados, o motorista abriu a porta da frente para entrarem os passageiros mas não abriu a porta de trás por onde era suposto sairmos. Pedimos para ele abrir a porta e ele começou a falar muito alto e percebemos que não queria abrir a porta; pelos gestos que fazia, entendemos que, segundo ele, teríamos de continuar a viagem até o aeroporto! Rapidamente furamos por entre as pessoas que estavam a entrar e conseguimos sair pela porta da frente, enquanto o motorista gritava enfurecido qualquer coisa para nós ininteligível. Ficámos abismados com este comportamento.

Lá seguimos a pé até ao castelo de Ankara, de onde se avista quase toda a cidade. Ao redor fica a cidadela ou Cidade Antiga, bem preservada, com lojas de antiguidades, de artigos típicos e souvenirs, bares e restaurantes. Na volta parámos no Bogazici Lokantasi para almoçar. Trata-se de um excelente restaurante muito frequentado pelos locais mas também por alguns estrangeiros, como nós. Lá dentro tem uma montra enorme cheia de travessas de comida, e é só chegar e apontar para o que se pretende comer. A comida é mesmo muito boa. Um prato típico muito requisitado é um arroz com carne chamado Ankara Tava.
E nada mais há a registar digno de nota sobre Ankara. Apenas que aquele episódio com o motorista do autocarro nos fez pensar que a Turquia é talvez o país onde se manifesta mais abertamente o dilema muçulmano. De um lado os que hostilizam os estrangeiros ocidentais e se refugiam na tradição, na religião; e do outro os que desejam um estado laico, aberto e democrático, na linha protagonizada pelo fundador da Turquia moderna, Kemal Atatürk.

Um pouco antes da meia-noite aterrámos em Lisboa. Assim se concluía mais uma grande aventura e mais uma grande viagem. Em novembro está programada mais uma viagem de um mês, desta vez pela África.
******************************
1 Nós perdemos a ligação para Seul porque o nosso voo que saiu de Lisboa para Amsterdão atrasou devido ao mau tempo neste aeroporto. Chegados a Amsterdão o nosso voo para Seul já tinha saído. Então a KLM enviou-nos um SMS e um e-mail a marcar novo voo que sairia às 9 da manhã. Dado que chegámos ao aeroporto de Amsterdão por volta das 2 da madrugada, ficámos pelo aeroporto mesmo. Por volta das 4 da manhã recebemos novo e-mail e SMS dizendo que o novo voo tinha sido cancelado “por motivos técnicos”. Tivemos de esperar até às 8 da manhã, hora em que abriu o balcão da KLM para que nos fosse remarcado novo voo. As filas eram enormes e tivemos horas à espera. No balcão só conseguiram marcar-nos voo para as 21 horas através da Korean Air.
Quando chegámos a Lisboa reclamámos junto da KLM mas responderam-nos que não tínhamos direito a indemnização. Primeiro disseram-nos que não tínhamos direito a receber indemnização porque o nosso voo desde Lisboa tinha atrasado devido ao mau tempo; depois, quando pacientemente voltamos a explicar que não era esse o voo em causa, mas o que eles tinham remarcado para as 9 da manhã do dia seguinte e depois cancelado, responderam-nos que ainda assim não tínhamos direito a indemnização porque os bilhetes não tinham sido emitidos. Reclamámos para a ANAC. Preenchemos o formulário indicado, enviamos os documentos solicitados, fizemos um breve descrição do ocorrido. Passadas três semanas recebemos um e-mail da KLM a dizer que iam enviar 1200,00€ para a nossa conta — e cumpriram.
Moral da história: nunca desistam de reivindicar os vossos direitos. Se a companhia aérea não concordar em indemnizar-vos, reclamem para a ANAC (Autoridade Nacional de Aviação Civil) ou para alguma congénere de outro país. Tratem diretamente com eles e não recorram a nenhuma das inúmeras empresas que existem na internet porque qualquer delas vai cobrar-vos cerca de metade do valor a que têm direito.
******************************